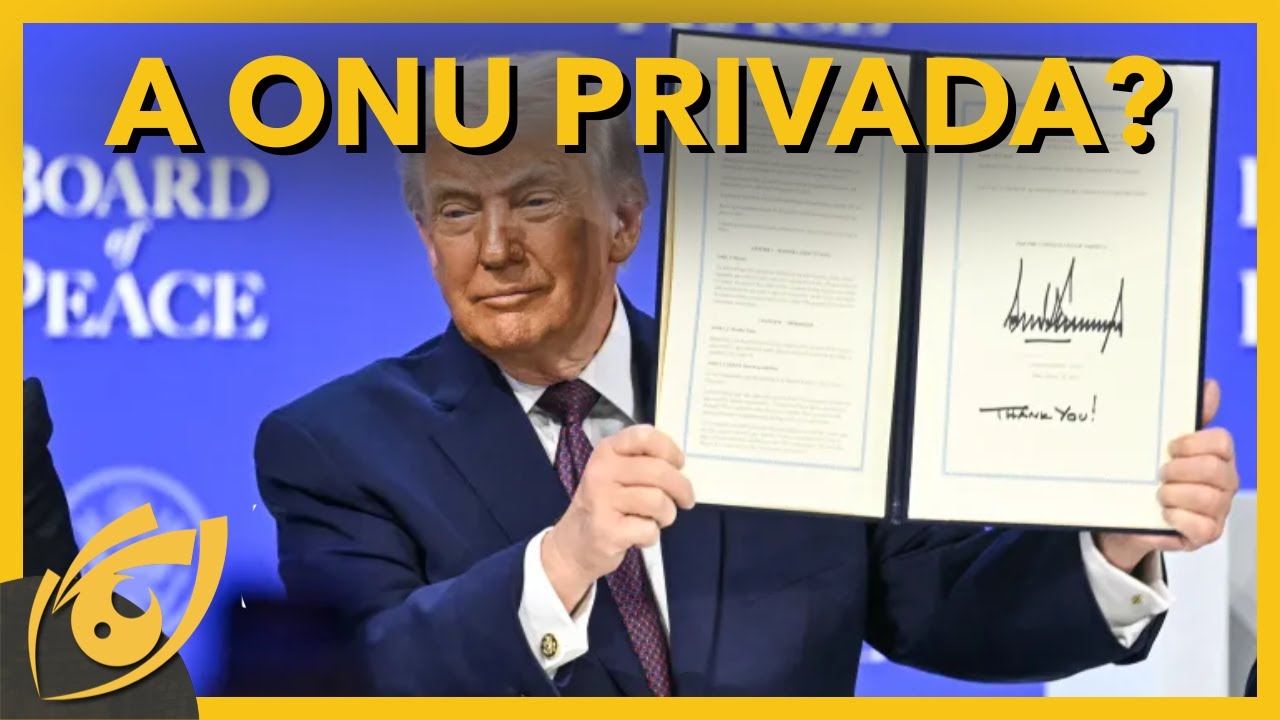O Board of Peace de Trump será uma Boa Alternativa à ONU?
Donald Trump planeja romper a velha ordem mundial de 1945 com sua nova proposta, a Boards of Peace, uma espécie de ONU privada, com taxa de admissão. Mas será que esse modelo é tão diferente do atual?
O Boards of Peace foi apresentado pelo presidente americano Donald Trump durante o Fórum Econômico de Davos e se posiciona como uma nova ferramenta de cooperação internacional. Trump anunciou que o conselho teria como objetivo inicial atuar na resolução de conflitos e começou mirando um dos mais complexos do planeta: a Faixa de Gaza. Seu projeto global de pacificação propõe resolver o que décadas de diplomacia e incontáveis resoluções da ONU não conseguiram.
Desde o anúncio, a reação internacional foi um misto de adesões, recusas e neutralidades. Entre os convidados está o Brasil, citado nominalmente por Trump como peça-chave no projeto, com a promessa de que o presidente Lula teria “um grande papel” no conselho. Até o momento, o governo brasileiro mantém-se neutro sobre a proposta de Trump, afirmando que está avaliando a adesão do país.
O Oriente Médio, epicentro do primeiro experimento de paz do conselho, foi a região que mais rapidamente aderiu. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Jordânia e Catar aceitaram o convite. A adesão desses países reforça a narrativa de que o Boards of Peace pretende começar resolvendo um problema real, e não apenas acumulando discursos.
(Sugestão de Pausa)
A Ásia também marcou presença: Paquistão, Indonésia, Vietnã, Uzbequistão e Cazaquistão disseram “sim” ao convite. Essa expansão dá ao projeto uma aparência de diversidade continental, como se Trump tentasse reproduzir o ecumenismo institucional que a ONU exibia em seus tempos dourados.
No campo da OTAN, Hungria e Turquia confirmaram participação, cada uma à sua maneira, sem renunciar à sua diplomacia independente. Já no bloco europeu fora da aliança, Kosovo, Belarus, Armênia e Azerbaijão decidiram aderir, sendo esse o grupo mais heterogêneo de países a aceitar o convite.
Da África vieram sinais positivos de Marrocos e Egito, países com peso histórico na mediação de conflitos regionais e sensibilidade particular à questão palestina. Na América do Sul, apenas Argentina e Paraguai confirmaram adesão, reforçando o alinhamento pró-Trump de Javier Milei e Santiago Peña.
Israel aceitou participar, o que não surpreende, e facções palestinas apoiaram a criação de um comitê de transição para Gaza supervisionado pelo próprio conselho. Trump parece estar conseguindo reunir israelenses e palestinos em torno de uma mesma mesa, algo que nem a ONU conseguiu em 70 anos.
(Sugestão de Pausa)
Mas nem todos se empolgaram com a nova entidade. Noruega, Suécia, Itália e França rejeitaram a proposta, preferindo manter a fé na velha arquitetura internacional da ONU. A China foi ainda mais categórica: recusou e reiterou que continuará apostando em um sistema multilateral centrado nas Nações Unidas. Já Alemanha, Reino Unido, Canadá, Índia, Tailândia e Japão ainda não emitiram uma resposta oficial.
A Rússia demonstrou interesse, mas sem confirmar. A Ucrânia, cética, admitiu estar analisando o convite, embora Zelensky tenha deixado claro que não enxerga credibilidade em negociações que incluam Moscou. Assim, o Boards of Peace nasce entre abraços e desconfianças, aplausos e sobrancelhas arqueadas.
A proposta de Donald Trump é ambiciosa e, para muitos, megalomaníaca. O ex-presidente americano apresentou o Conselho da Paz como uma espécie de ONU privada, um organismo autônomo destinado a “alcançar a paz mundial”, mas sem a teia burocrática das Nações Unidas. Para Trump, o Boards of Peace seria o primeiro passo em direção a uma nova ordem mundial que sucederia a velha ordem estabelecida após a Segunda Guerra Mundial. O gesto de convidar Rússia e Belarus foi especialmente controverso, pois são países diretamente envolvidos na guerra da Ucrânia, acusados de violações de direitos e agressões territoriais. É difícil imaginar como promotores de guerra se encaixam em um projeto de paz, mas, na lógica de Trump, todos podem ser parte da organização.
(Sugestão de Pausa)
Os convites foram assinados pessoalmente por Trump, um detalhe performático que reforça o caráter personalista da iniciativa. Ele se posiciona como presidente vitalício do Conselho, com poderes amplos sobre sua estrutura, agenda e participantes. A centralização é tamanha que o estatuto do conselho nem sequer menciona explicitamente Gaza em todos os pontos, sugerindo que o plano é muito maior: uma “ONU paralela”, comandada por um único homem.
A composição do conselho também chama atenção. Entre políticos aliados, há empresários, bilionários e figuras conhecidas do círculo trumpista. Marco Rubio, secretário de Estado de sua administração, é um dos membros. Jared Kushner, genro e ex-mediador no Oriente Médio, figura como responsável por fundos bilionários que sustentam parte da operação. Steve Witkoff, magnata do setor imobiliário e amigo pessoal de Trump, surge como enviado especial à Rússia. Tony Blair, ex-primeiro-ministro britânico, aparece com o título curioso de “vice-presidente de Gaza”. Até o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, foi incluído na lista de convites. É um elenco que mistura diplomacia, finanças e fidelidade pessoal, o que levanta a pergunta inevitável: trata-se de uma missão de paz ou de um grupo que almeja apenas influência econômica e política?
O ponto mais controverso do anúncio foi a existência de uma “taxa de adesão” de um bilhão de dólares por um assento permanente. Países que aderirem à organização terão três anos de mandato, tendo que pagar a quantia caso desejem permanência vitalícia. O dinheiro, segundo fontes, seria destinado a um fundo privado em nome de Donald Trump, administrado por um de seus filhos. Sem transparência sobre o uso desses recursos, o risco é óbvio: a paz pode se tornar um negócio rentável.
(Sugestão de Pausa)
Na prática, isso cria uma diplomacia de “clube exclusivo”, em que o peso político é medido pela capacidade financeira. Países ricos poderiam garantir vozes permanentes, enquanto economias menores ficariam relegadas à plateia.
Trump, em seu estilo inconfundível, posiciona-se como o líder global que “finalmente fará o que ninguém fez”. Seu objetivo implícito é minar a legitimidade da ONU, que ele sempre chamou de “ineficiente e dominada por inimigos dos EUA”, e substituí-la por uma organização moldada à sua imagem e semelhança.
Mas toda essa combatividade para com a ONU não passa muito do discurso, já que o Boards of Peace nasce sob as mesmas contradições que diz combater: concentração de poder, opacidade financeira e o eterno vício do discurso moral usado para justificar jogos de interesse. A promessa é de paz, mas o modelo lembra mais uma corporação multinacional do que uma entidade humanitária.
Para entender o que Trump está tentando substituir, é preciso revisitar a história da ONU, uma história repleta de discursos garantistas e fracassos práticos. Depois da Primeira Guerra Mundial, foi criada a Liga das Nações, em 1919, com a nobre missão de “manter a harmonia entre as nações”. Apesar da ideia nobre, a Liga não tinha força política nem legitimidade global, e sua impotência diante da agressão japonesa à Manchúria, da invasão italiana da Etiópia e da expansão nazista pavimentou o caminho para a Segunda Guerra Mundial.
(Sugestão de Pausa)
Da ruína nasceu a ONU, concebida em 1944 nas negociações de Dumbarton Oaks e formalizada em 1945, em São Francisco. Cinquenta países assinaram a Carta das Nações Unidas, fundando oficialmente uma nova era de diplomacia multilateral. O otimismo era palpável: um mundo traumatizado pela guerra acreditava ter finalmente encontrado o antídoto.
Mas o otimismo se provou cego à realidade. A ONU herdou, desde o início, a promessa de igualdade entre Estados, mas, na prática, tornou-se um sistema dominado por poucos. O Conselho de Segurança, com seus cinco membros permanentes e poder de veto, tornou-se a expressão máxima dessa desigualdade institucionalizada.
Durante a Guerra Fria, a ONU foi refém da rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética. Quase todas as decisões importantes eram bloqueadas por um lado ou pelo outro.
Nas décadas seguintes, a ONU expandiu suas missões de paz, interveio em crises, organizou eleições e, em alguns casos, fracassou vergonhosamente. O genocídio de Ruanda, a tragédia da Bósnia e o massacre de Srebrenica expuseram sua paralisia moral. Na Somália, as forças de paz se tornaram reféns de sua própria burocracia. Em Darfur, a ONU se limitou a observar o conflito.
(Sugestão de Pausa)
A partir dos anos 2000, a organização tentou se reinventar: lançou metas de desenvolvimento, reformou sua administração e buscou mais transparência. Criou os Objetivos do Milênio e, depois, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ainda assim, o cansaço é evidente. A ONU tornou-se um gigante administrativo, repleto de relatórios, metas e fóruns, mas incapaz de agir com agilidade.
Hoje, a pergunta paira no ar: a ONU ainda é relevante? Sua estrutura exige unanimidade entre os membros permanentes do Conselho de Segurança para autorizar qualquer ação militar, o que praticamente garante a inação.
A ONU é uma instituição que fala em nome dos Estados, não das pessoas. Sua legitimidade é política, não moral. Os indivíduos não consentem diretamente com suas ações; são representados, por convenção, por governos que muitas vezes não os representam. Essa distância entre poder e consentimento é o ponto cego de toda governança supranacional.
No fim das contas, tanto a ONU quanto o Boards of Peace partem da mesma ilusão fundamental: a crença de que a paz pode ser planejada, gerida e imposta de cima para baixo. Uma aposta institucional em que elites políticas decidem o destino dos povos e chamam isso de cooperação internacional.
A ONU opera com uma burocracia difusa, lenta e fragmentada. O Boards of Peace promete eficiência e centralização, mas, no fundo, é apenas uma diferença estética. A essência é a mesma: poder concentrado em mãos que não arcam com as consequências de seus erros. Nenhum diplomata perde o sono por uma resolução fracassada, nenhum “líder da paz” paga o preço de uma guerra mal mediada. Os custos recaem sobre os civis, sempre.
(Sugestão de Pausa)
Ambas as instituições são construídas sobre acordos entre Estados, não sobre o consentimento moral dos indivíduos. E é justamente isso que as torna, eticamente, frágeis.
A retórica da paz serve como instrumento geopolítico, um disfarce conveniente para a disputa por influência, poder e prestígio. Quando Trump fala em paz, está falando em liderança. Quando a ONU fala em paz, fala em relevância institucional. Em ambos os casos, a palavra “paz” perde substância e vira ferramenta de marketing diplomático.
Do ponto de vista econômico, essas instituições funcionam com base em financiamento coercitivo, impostos, tarifas e fundos públicos, que socializam custos e concentram benefícios, sendo o oposto da cooperação voluntária.
O planejamento central da paz esbarra em outro limite clássico: a impossibilidade de uma entidade central agregar o conhecimento local necessário para resolver conflitos complexos. A crítica hayekiana cabe como uma luva aqui. Nenhum comitê, por mais ilustrado que seja, pode compreender as dinâmicas culturais, religiosas e históricas de cada região em conflito. O resultado é previsível: decisões simplistas para problemas intrincados.
A lição amarga é que a paz institucionalizada é, por natureza, uma contradição. A ONU fracassou não por acidente, mas porque foi concebida para administrar o poder, não para limitá-lo. O Boards of Peace de Trump não corrige isso; apenas o reorganiza sob outro rosto, com outro logotipo e a mesma lógica hierárquica.
(Sugestão de Pausa)
A verdadeira paz, se é que pode existir fora dos discursos, não nasce de tratados ou conselheiros vitalícios. Ela emerge da liberdade, da descentralização, do comércio e da cooperação espontânea entre indivíduos e comunidades. Nenhum conselho pode “planejar” o entendimento humano, porque o entendimento não é imposto, é construído. Além disso, quando os governos desarmam sua população, eles estão tornando-os vulneráveis aos criminosos e bandidos, que adquirem armas no mercado negro. Isso não garante segurança nem paz, e as armas de fogo são importantes para colocar indivíduos pacíficos em pé de igualdade com os criminosos.
Enfim, assim como o Leviatã estatal, as duas organizações apenas prometem e nunca entregam. Ambas refletem a velha crença de que o mundo precisa de um árbitro global. E a paz só precisa de espaço para florescer, sem donos e sem burocracias.
Referências:
https://oslibertarios.com.br/2026/01/22/conselho-de-paz-de-trump-quem-disse-sim-ou-nao-e-quem-ainda-avalia-adesao/?share=print&nb=1
https://www.youtube.com/watch?v=RpF0M9-8sGk
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_the_United_Nations